Ética da Rua e Direito à Propriedade Privada
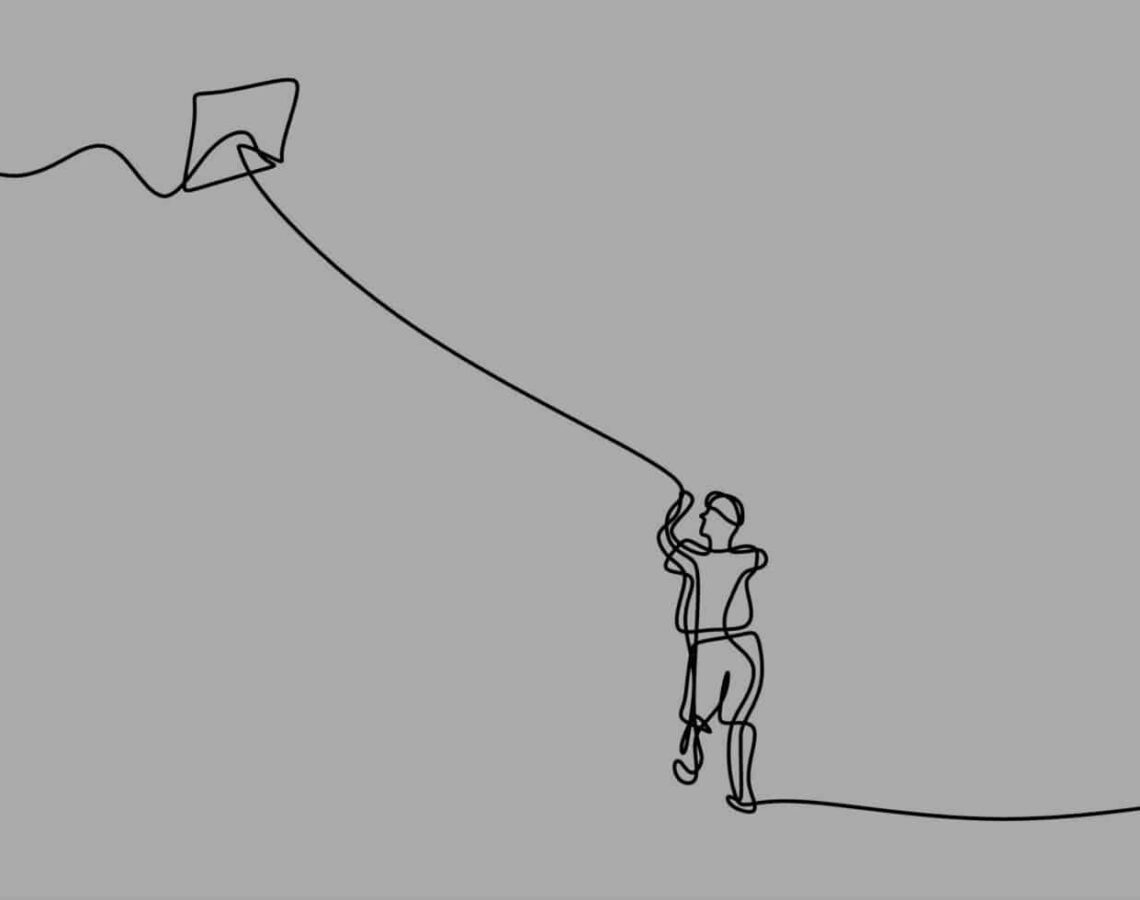
Para Conceição Evaristo
Quando eu descobri o princípio mais apreciado do Estado Liberal, não deixei de ser menino, mas perdi a inocência. Foi assim…
O ano? 1974. Eu tinha seis anos de idade. Tinha ocorrido uma mudança brusca: migramos para a cidade do Rio de Janeiro em pleno clima do “milagre brasileiro”. O êxodo rural, nordestinos em busca de melhores condições de vida migraram para o sudeste. Na cidade de São Bernardo, no recôncavo baiano, só permaneceu meu pai.
Mãe precisou sair para trabalhar. Minhas cinco irmãs, e único irmão, cuidavam de mim, o caçula. Mãe trabalhava noite e dia na cidade maravilhosa. Foram muitas as mudanças num curto espaço de tempo. Na Bahia, ela era dona de casa. Mas na cidade grande tudo ficou diferente, revezava-se em dois empregos. De dia era doméstica no bairro da Tijuca e à noite trabalhava como servente na Clínica Professor José Kos, no Centro da cidade. Como doméstica trabalhava todos os dias com folga aos domingos, enquanto na clínica, plantão noite sim, noite não. Enfim, passei a ver minha mãe algumas noites da semana e aos domingos. Via o meu pai por uma semana, ano sim, ano não.
Sentia muita falta. A casa estava sempre cheia com minhas irmãs e irmão, além dos amigos deles que frequentemente estavam por lá. Parecia uma república estudantil. Mas eu queria mesmo a minha mãe. Quando ela chegava, eu corria para a entrada da vila. Sistematicamente carregava a bolsa dela, sempre pesada. Dormia com ela na mesma cama. Acordava e ela já tinha saído para trabalhar. Não foram poucas às vezes que me trancava no banheiro, o lugar mais quieto da casa, para chorar escondido. Ninguém podia saber da saudade que tinha dos meus pais.
Num belo dia, talvez por perceber a tristeza que eu julgava esconder, mãe acordou cedinho, mas não saiu na ponta dos pés. Ela me acordou e me vestiu. Pela primeira vez me levava para o trabalho dela numa ampla casa na Rua Haddock Lobo, no bairro da Tijuca.
Havia um espaço amplo no fundo da casa. Enquanto ela trabalhava, eu fiquei brincando. Os patrões tinham quatro filhas e a mais nova devia ser da mesma idade que eu. Simpática, se aproximou e brincávamos naquela manhã ensolarada no quintal arborizado.
Eis que tive uma surpresa: uma pipa “avoada” solenemente caiu na minha frente como se estivesse se oferecendo. Aos seis anos eu já conhecia a “ética da rua”, que embora não fosse escrita, estava devidamente registrada nos nossos “contratos” de meninos descalços correndo para pegar a pipa “avoada”. Foi a minha primeira vez. Na vila onde morávamos, eu nunca tinha corrido atrás de pipa, imagino por que soubesse que não tinha chance na disputa. Não foram poucas as vezes que presenciei brigas feias. Meu irmão, mais corajoso, mais velho que eu seis anos, era um bom “pipero”.
Mas naquele dia foi diferente, a pipa praticamente caiu no meu colo. Sem qualquer esforço ou disputa, estendi a mão e peguei. Na minha euforia, esqueci onde estava. A menina, até então amistosa, reivindicou educadamente a pipa:
– Eu quero.
– Eu peguei, a pipa é minha.
Houve um silêncio, um impasse constrangedor. Deve ter sido rapidinho, mas, na minha memória, parece que durou horas. Fui certeiro citando o contrato não escrito da “ética da rua”:
– Pipa “avoada”, eu peguei primeiro, é minha.
Ela não se convenceu e fez uso do argumento do “direito à propriedade privada”:
– Tudo bem que você pegou, mas está na minha casa. A pipa caiu no meu quintal!
Sem resistência, reconheci que a “ética da rua” não era suficientemente forte para vencer o “direito à propriedade privada”. Não estávamos na rua e lembrei que não corria atrás de pipa porque não aguentava porrada como meu irmão. Entreguei e fui para o quartinho da empregada que ficava ali nos fundos da casa. Tranquei a porta. Como já estava acostumado, chorei baixinho para ninguém escutar.
Um detalhe que ocultei: enquanto disputava a pipa, minha mãe estendia roupas lavadas no varal, observava meu dilema à distância. Quieta ela estava, quieta ficou. Não interferiu. Desviou o olhar como se não estivesse sabendo o que estava acontecendo. Não chorei no quartinho por causa da pipa, mas pelo olhar impotente da Dona Raimunda. Era como se ela assentisse porque na vida eu teria que ceder. Não estávamos mais na cidade do interior da Bahia, na cidade grande a primeira lição que uma criança na minha condição tinha que aprender: são os proprietários que definem as regras.
Passaram-se alguns minutos e alguém estava à porta, batendo impacientemente. Limpei os olhos e fui atender. Pensei que fosse mãe para brigar comigo por tamanha “falta de educação”. Imagina, encarar a herdeira daquela família tão importante… Não era mãe. Abri a porta e dei de cara com a menina com os braços estendidos para me entregar a pipa. Ela disse que estava brincando e a pipa era minha. Agradeci, guardei e seguimos brincando.
À noite, quando cheguei em casa, na entrada da vila, fiz a minha entrada triunfal, como se carregasse um troféu. Porém, mais do que a pipa, naquele dia diferente ficou o aprendizado: eu sou o sétimo filho da empregada baiana.
Na manhã seguinte, como sempre fazia, ela acordou mais cedo que todos e saiu: obscura, solitária, digna, discreta, provedora, minha guerreira sábia!
Fui ao terraço com o meu irmão. Como dizíamos, colocou a pipa no alto. Cruzou, cortou o primeiro. Claro que ele estava mais animado do que eu. Veio o segundo. Ele arrancou a linha da minha mão, dibicou a pipa e cortou o segundo. No terceiro duelo, lá se foi a minha primeira pipa, para nunca mais…
Ilustração: Vecteezy
